
Ser mulher, uma armadilha, por Marcia Tiburi
Falar de “mulher” e de “mulheres” é sempre complicado. A maior parte das pessoas ainda trata “mulher” como sendo uma condição natural, sem levar em consideração que “mulher” é, sobretudo, uma palavra ou um “signo” e, como tal, usado com fins específicos.
O principal objetivo de um signo é definir ou marcar determinados seres. Mas não é só. Muitas vezes, essa necessidade disfarça interesses. Em termos bem simples, podemos dizer que estamos envolvidos em jogos de linguagem que são jogos de poder.
Nesse caminho, fica menos difícil tocar no assunto delicado da desmontagem das essências e da ideia de “natureza” que os neofundamentalistas tentam sustentar, ainda hoje, quando dizem que homem é homem e mulher é mulher. As teorias feministas vêm nos dizer que não é bem assim e deixam muita gente irritada. Mas temos uma análise mais urgente pela frente.
“Parecer frágil quando não se é frágil requer um esforço descomunal do qual somente são capazes pessoas mais do que fortes, muito fortes. Assim é que entendemos os esforços de tantas mulheres em cumprir o papel de ser mulher, o papel pesadíssimo do gênero.”
Estigma e paradoxo
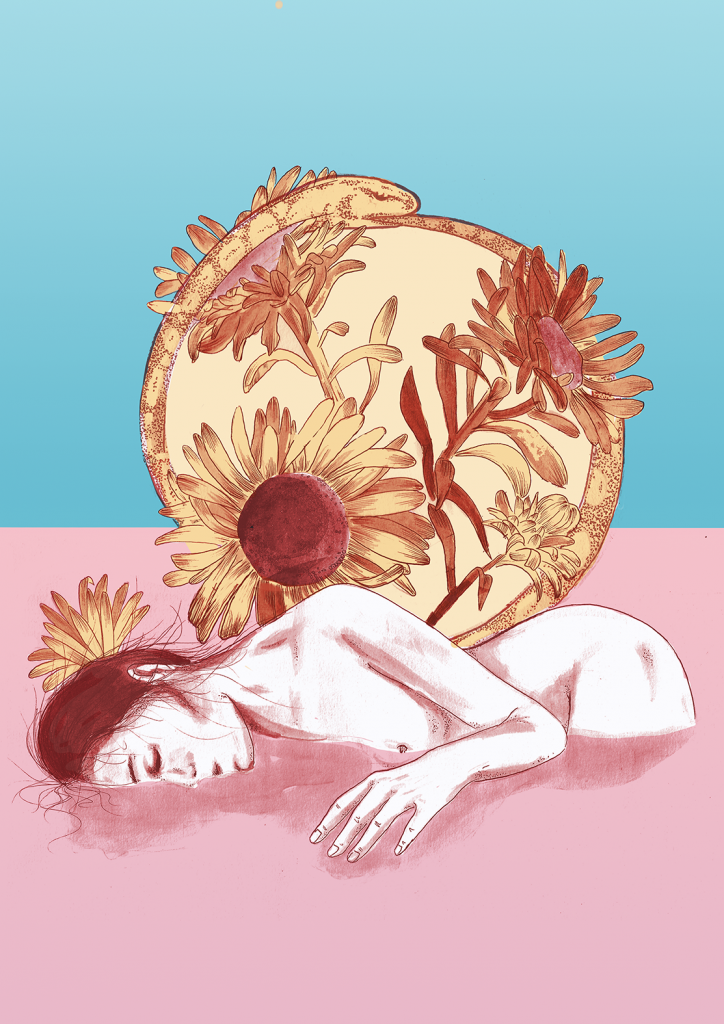
Mulher vem do latim mollior, superlativo de mollis. Mollis designa o que é mole. O sentido é o de coisa inconsistente e sem força. Quem preferir pensar em feminus (quem tem menos fé), referindo-se à “fêmea” e ao feminino, continuará envolvido com a ideia de algo fraco. De uma impotência que faz parte de certos seres, no caso, o “sexo frágil”. Todo um conjunto de velhas teorias médicas ou filosóficas, tais como a de Aristóteles, está na pré-história dessa construção que nada tem de natural.
“Enquanto as mulheres levam a pior no mundo do trabalho e na política, em casa e na rua (…) evolui na microfísica despolitizada do cotidiano um novo programa ideológico: o da supermulher, da mulher-maravilha.”
Como costumam fazer os estigmas nas mãos de quem se aproveita deles, o “sexo frágil” faz sucesso ainda hoje ao impedir a percepção ética acerca dos outros. Repetida à exaustão, a fragilidade das mulheres valeu como verdade. Os homens ficaram com a ideia de uma força que lhes era própria, tornando-se sujeitos de privilégios, enquanto às mulheres coube sustentar esses privilégios. Mas quem perguntou se elas queriam esse papel?
Estamos diante de um paradoxo que torna tudo complicado, uma ironia do destino. É que esses seres denominados pelos outros como sendo mulheres, colocados sob o estigma da fragilidade e da fraqueza, sempre trabalharam mais do que os homens. Do trabalho da gravidez ao do parto, do trabalho doméstico ao público, as mulheres sempre estiveram envolvidas em demonstrações de força. Força física e emocional para segurarem todo tipo de tranco contra a pérfida ideia de uma natureza frágil.
“Além de tudo, alguns esperam desse ser que seja ‘bela’ e ‘magra’ conforme as exigências da ideologia político-econômica que mede as pessoas por tamanho e peso como, aliás, fazem os fabricantes de caixões.”
A complexidade do esforço de alguém que precisa usar muita força para suas ações e, ao mesmo tempo, ser frágil, ou melhor, parecer frágil, intensifica o paradoxo. E quando pensamos que alguém que deva ser frágil tem que fazer muito esforço para, justamente, em sendo forte, ainda por cima se adequar ao papel de frágil que lhe coube viver, a coisa fica ainda pior. Parecer frágil quando não se é frágil requer um esforço descomunal do qual somente são capazes pessoas mais do que fortes, muito fortes. Assim é que entendemos os esforços de tantas mulheres em cumprir o papel de ser mulher, o papel pesadíssimo do gênero.
Mulher-maravilha
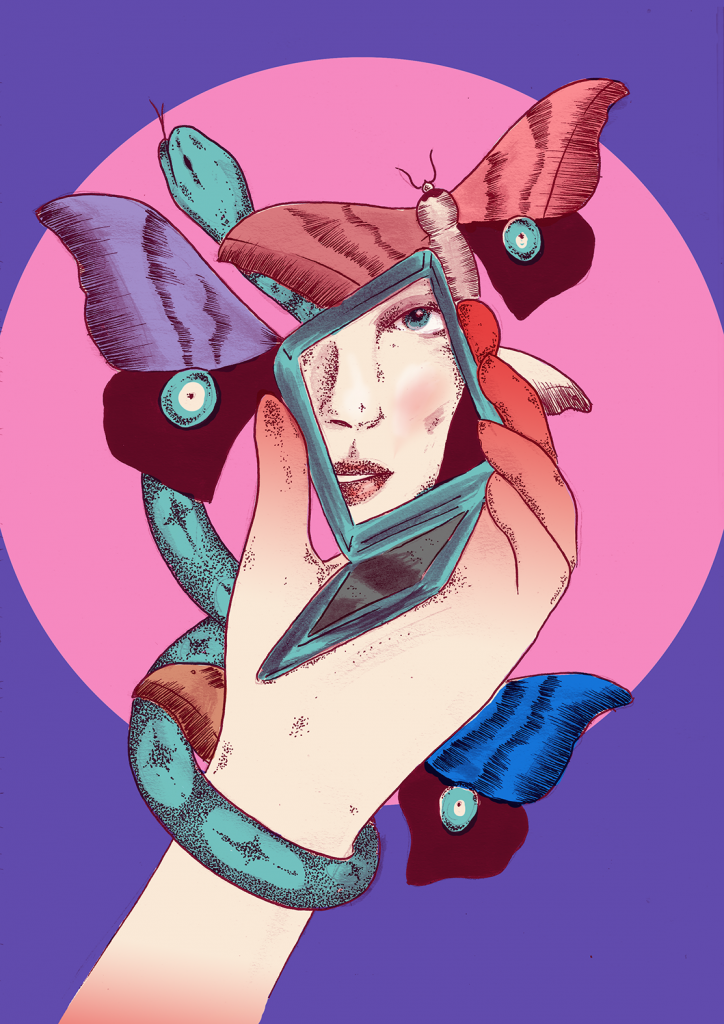
A essa altura da vida, da história da cultura, a opinião corrente já assimilou a ideia de que mulheres são frágeis. Isso faz parte do seu papel, de seu gênero. Vitória para o machismo, que vive também de opressões epistemológicas e ideológicas. Mas justamente agora, quando as mulheres poderiam apenas descansar ou dormir na cama armada na fama da fragilidade, exige-se delas tudo de novo. Estamos diante da astúcia na base da razão machista.
Enquanto as mulheres levam a pior no mundo do trabalho e na política, em casa e na rua, vítimas de todo tipo de violência porque foram “heterodenominadas” para isso, evolui na microfísica despolitizada do cotidiano um novo programa ideológico: o da supermulher, da mulher-maravilha. Mãe adorável, esposa abnegada, companheira compreensiva, profissional de sucesso, companhia agradável. Além de tudo, alguns esperam desse ser que seja “bela” e “magra” conforme as exigências da ideologia político-econômica que mede as pessoas por tamanho e peso como, aliás, fazem os fabricantes de caixões.
Sob o estigma da fragilidade, avançaram as triplas e quádruplas jornadas de trabalho, a desigualdade doméstica, a disparidade salarial, a desproporcionalidade na política. A feminista empoderada também é cobrada e responsabilizada por todas as mulheres do mundo.
“A feminista empoderada também é cobrada e responsabilizada por todas as mulheres do mundo.”
As pessoas heterodenominadas como mulheres percebem esses pesos e essas medidas lançados sobre seus corpos. Em países como França, Alemanha, Suécia e Islândia, as mulheres vão se emancipando dessas amarras, mas não sem sustos. Muitas deixaram de lado o casamento, que, segundo o discernimento de um sociólogo como Durkheim, sempre foi melhor para eles do que para elas. Umas desistem de ser mães, outras se arrependem desse papel, por mais que ainda afirmem gostar das pessoas a quem chamam de filhos.
Na década de 1970, a antropóloga norte-americana Gayle Rubin publicou O Tráfico de Mulheres, um dos textos mais importantes da história do feminismo contemporâneo. Analisando Lévi-Strauss e Freud, ela pretendia chegar a uma definição melhor do que chamou “sistema sexo/gênero” para referir-se àquela parte da vida social na qual aparece a opressão das mulheres e das minorias sexuais. Nesse livro, ela fala que o problema não é apenas que as mulheres sofram com violências que são lançadas contra elas, seus corpos e suas vidas. Mas que ter de submeter-se a “ser mulher” ou a ser homem já é algo de uma imensa violência. Daí que libertar as pessoas dessas opressões devesse ser o projeto de um feminismo consistente.
“[Gayle Rubin fala que] ter de submeter-se a ‘ser mulher’ ou a ser homem já é algo de uma imensa violência.”
Tudo isso nos faz ver que “mulher” é um conceito problemático. Hoje, sempre que surge uma transmulher, eu me pergunto se ela está ajudando a superar a condição feminina ou se veio apenas engrossar o caldo da “dororidade” (para usar um conceito de Vilma Piedade que vem fazendo muito sucesso entre as feministas diante do conceito mais ameno de sororidade) que caracterizou o universo onde habitam as mulheres até agora.
Não há dúvida, no entanto, de que as mulheres trans nos ajudam a pensar que “ser mulher” é uma identificação à qual podemos aderir ou da qual podemos nos libertar. Eu, pessoalmente, prefiro me dizer feminista, embora isso possa parecer horrível para muita gente. É que nunca consegui me reconciliar concretamente com a condição feminina, com esse ser “menos”, esse sexo frágil. Vendo a força das mulheres na microfísica do cotidiano, todo machismo sempre me pareceu fundado em uma enganação evidente que só o feminismo poderia desmontar. Quando percebi que as mulheres trans nos libertavam da essência e da natureza e assumiam a fantasia de ser mulher, achei que podia ficar, pelo menos, um pouco menos pesado.
Divertido seria impossível, mas continuo acreditando que o feminismo pode tornar o nosso mundo melhor ao nos livrar das mentiras e, assim, dos efeitos concretos que elas criam.
*Marcia Tiburi é escritora e filósofa, autora de Feminismo em Comum (Rosa dos Tempos).
*Matéria publicada originalmente por Marcia Tiburi na edição 211 da revista TOPVIEW.

