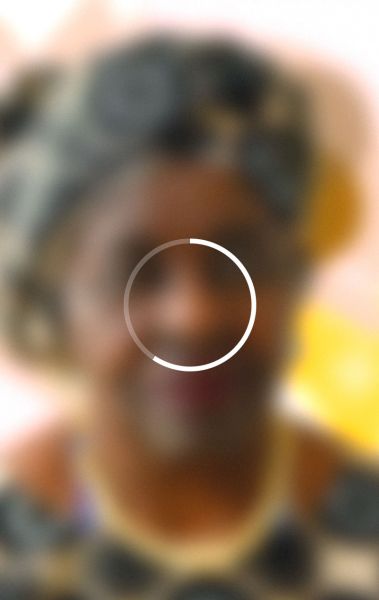
Yagunã Dalzira: a luta contra o racismo e preservação da cultura africana
“Sempre quis ter alguém para falar das minhas dores e causas de igual para igual. Às vezes, você vai falar com o outro, que não viveu isso, e ele vai dizer: ‘é mimimi, coisa da tua cabeça, será que você não está complexada?’”, desabafa Dalzira Maria Aparecida, a Iyagunã Dalzira – ou Yá (nome obtido no candomblé). Mineira de Guaxupé, ela faz parte da 7ª geração de africanos que chegou ao Brasil, é descendente da etnia Iorubá e veio ainda criança com os pais e os cinco irmãos para o Paraná. Hoje, a ialorixá (ou mãe de santo, como é chamada a sacerdotisa e chefe de um terreiro de candomblé) é um dos principais nomes do estado no combate ao racismo e na preservação da cultura africana. Exemplo de sabedoria, lucidez e determinação, aos 77 anos cursa doutorado na Universidade Federal do Paraná em Educação: Diversidade, Diferença e Desigualdade Social.
Foi com o pai que Yá aprendeu a ler e escrever aos 13 anos, época na qual apenas os meninos iam para a escola. Ainda que tarde, a educação entrou na vida dela para ficar. Da mãe, analfabeta, ela provavelmente herdou a calma e o afago com o qual recebe quem brota em sua casa, uma habitação simples no Bairro Alto, em Curitiba, onde vive com seus bichos – entre eles, a fiel cadelinha Tituba. “Quando você descobre o que o sistema faz desde o Brasil Colônia, o que seus antepassados passaram, por que você é maltratada nos locais, fica fora do eixo”, explica, entre latidos, a força e motivação para estudar.
A condição repentina de mãe, quando assumiu aos 36 anos os sete filhos da tia (violentamente assassinada pelo ex-marido), talvez justifique por que nunca casou. Enquanto aprendia corte e costura, estudava português. Trabalhava ora na máquina de costura, ora na lavoura, banando café. Era final dos anos 1970 quando uma amiga a convidou a participar de um grupo contra o racismo. “O convite que esperei a vida toda.” Em plena Ditadura Militar, os encontros aconteciam às escondidas, sempre com poucos integrantes, até o dia em que uniu quase 50 adultos.
Aos 47, entrou no EJA (Educação de Jovens e Adultos). Fez a prova de equivalência e foi para o colégio fazer o Ginásio – correspondente ao últimos anos do Ensino Fundamental. Participou do Mobral (Movimento Brasileiro de Alfabetização) e frequentou até escola rural. Aos 63, quando muitas mulheres já se aproximavam da aposentadoria, ela começou a fazer Relações Internacionais – os mais novos da sala tinham 17 anos. Como trabalho de conclusão de curso, apresentou uma monografia sobre a influência africana na Argentina, no Brasil e em Cuba e recebeu muita ajuda com indicação de textos e livros. “A sociedade, quando quer, transforma também.”
“Todo dia [o racismo] está acontecendo sutilmente. Tem coisa que você passa por cima e tem coisa que você vai para cima.”

Não parou por aí. Aos 72, defendeu seu mestrado pela UTFPR com uma dissertação sobre “os saberes do candomblé na contemporaneidade”. Quando terminar o doutorado, avalia: “Vou ver o que faço”. Parar de estudar, no entanto, nunca. Atualmente, dedica-se a aprender sobre feminismo negro, educação e candomblé.
A religião africana, aliás, entrou em sua vida depois da consciência racial, ao mesmo tempo em que crescia o interesse por conhecer o culto dos antepassados. Considera o cargo de ialorixá, recebido há mais de 30 anos, a conquista mais importante de sua vida. “A religião me dá o equilíbrio para pensar. Me dá uma lente para enxergar mais a sociedade.”
Viver no Sul do Brasil sendo negra e ialorixá, para Yá, ainda é muito difícil. “A intolerância religiosa é mais acirrada.” Se ficar quieta, garante, não há perseguição. Até começar o som do atabaque. “Barulho tem a noite toda: gritos, carro freando que atrapalha o sono. Por que a religião tem que ser à noite? A missa na catedral não é de manhã? Porque ao sair da senzala, da escravidão, o negro não tinha esse tempo, nem permissão”, explica. Praticada de forma clandestina, às escondidas, a religião africana carrega até hoje esse estigma repressor.
Embora reconheça que, nos anos 1970, “era muito pior”, garante: mudou apenas o perfil do racismo – o preconceito, em si, não. “Antes era mais grosseiro. Hoje é mais sutil. Fica até difícil de comprovar que é racismo. Claro que a gente também vai combatendo, mas todo dia ele está acontecendo sutilmente. Tem coisa que você passa por cima e tem coisa que você vai para cima”, define Yá. Quando a questionavam “por que você quer estudar”, ela devolvia “por que não posso querer?”. Então, aprendeu a responder de outro jeito: “Quero estudar pra dialogar bem com São Pedro. Dizem que ele é muito culto”.
Matéria originalmente publicada na edição 221 da revista TOPVIEW.

